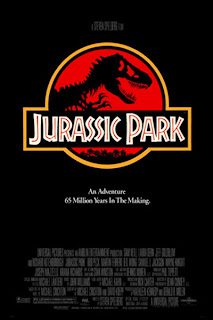Direção: Asif Kapadia
O herói, de uma forma geral, surge como uma figura representativa de sua comunidade que assume para si a responsabilidade de levar o nome de seu povo para a posteridade, protegendo-o dos possíveis inimigos que possam surgir diante dele. Carregado de virtudes, tais quais coragem, altruísmo, além de moral e de um comportamento ético, o herói até pode agir de forma contrária ao que chamamos de bons costumes, mas sua atitude sempre estará embasada em uma justificativa válida. Seu campo de batalha será sempre um refúgio para seus atos de heroísmo e, caso venha a sucumbir que seja em ação a fim de que seja sempre lembrado por seus atos heróicos em sua jornada rumo à eternidade.
Após mais de vinte anos sob um regime de ditadura militar, seguido de uma crise econômica séria e amargando um longo jejum de títulos mundiais em seu esporte favorito – o futebol, o povo brasileiro estava carente de heróis. Foi a partir de meados dos anos oitenta que o Brasil – e o mundo – viu emergir a imagem de um jovem piloto cuja carreira o colocaria no hall dos grandes esportistas mundiais. Ayrton Senna da Silva chegou à principal categoria de automobilismo em 1984 e rapidamente chamou atenção das principais escuderias da Fórmula Um e conseguindo, em uma década, três títulos mundiais, algumas desavenças, além de levantar vários questionamentos sobre o esporte que praticava, em especial, no tocante às influências políticas e econômicas que sobrevoavam as competições. Através da utilização de imagens de arquivo e de depoimentos de especialistas em automobilismo, o documentário Senna acompanha essa década no intuito de desvendar a figura do piloto e do homem Ayrton Senna e sua consagração como herói nacional.
Trazendo, obviamente, como protagonista de sua narrativa o piloto brasileiro, o diretor Asif Kapadia apresenta o personagem em sua juventude no kart e junto à família até sua entrada na Fórmula Um e sua rápida ascensão à McLaren, formando equipe com aquele que seria seu principal antagonista: o piloto francês Alain Prost. As diversas desavenças com Prost – representadas principalmente pelo desfecho dos grandes prêmios do Japão de 89 e 90 (anos em que Prost e Senna foram campeões mundiais respectivamente, depois de batidas entre si, as quais geraram muita controvérsia) – e com o presidente da FIA, o também francês Jean-Marie Balestre, demonstram o lado crítico de Senna e sua insatisfação com o jogo político que existia por trás dos panos na categoria. Além disso, o documentário apresenta as diversas indagações que o brasileiro fez sobre o regulamento das competições – como quando questiona o lado da pista em que o pole position largava ou sobre os riscos que os pneus colocados na chicane causavam à segurança dos pilotos.
Em paralelo, Kapadia apresenta o lado humano de Ayrton Senna e sua condição de ícone midiático. O filme mostra inúmeras imagens e depoimentos de Senna sobre a condição de pobreza de seu país e de seu desejo em auxiliar os menos favorecidos. Sua vida pessoal – que, em virtude dos seus feitos nas pistas e de seu caráter contestador, acabou por atrair a atenção da mídia e de inúmeros fãs pelo mundo todo – é representada pela sua relação junto à família e seus casos amorosos com a apresentadora Xuxa Meneghel e com a modelo Adriane Galisteu. Entretanto, o grande momento de Senna surge quando somos levados ao circuito de Ímola em San Marino. De forma bem estudada, somos levados a conhecer todos os acontecimentos daquele fatídico final de semana marcado pelos acidentes de Rubens Barrichello e de Roland Ratzenberger – este fatal. As reações dos pilotos quanto à morte do colega austríaco e a tensão visível em Senna parecem prever os acontecimentos do dia seguinte e o fato de o espectador ter consciência do que testemunhará em instantes, torna a situação ainda mais conflitante.
No momento ápice do filme, acompanhamos Senna em sua última volta antes do acidente que lhe tiraria a vida através de uma câmera acoplada a seu carro. O mito Senna sucumbia, diante de milhões de espectadores, em seu ambiente de trabalho, fazendo aquilo que mais gostava, representando seu povo na pista e as imagens de seu funeral somente provam seu papel heróico junto a seus conterrâneos e aos seus colegas de trabalho. Aquele primeiro de maio tornou-se histórico, não apenas pela perda de um ícone do esporte mundial, mas também pelas conseqüências que aquele acidente causaria para a Fórmula Um – todas voltadas para a garantia de segurança dos pilotos.
Um documentário muito bem realizado e muito bem montado – se levarmos em consideração que a base do projeto foi a utilização de imagens de arquivo – e que faz jus àquele que considero ser o último herói do esporte brasileiro.